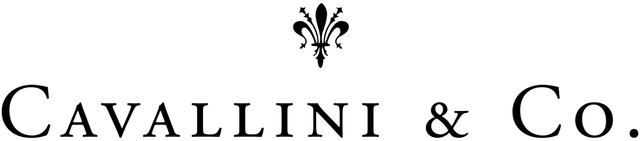O envelope estava enfiado no fundo da caixa de correio, dobrado e ligeiramente amassado. Quando o retirei, reparei que o meu nome estava escrito à mão, com uma caligrafia inclinada que não via há anos, mas que reconheci no mesmo instante. Fiquei ali, à porta de casa, com os dedos a deslizar sobre o cartão grosso do envelope, como se o próprio papel transportasse o peso do tempo.
Rasguei o canto do envelope com cuidado, puxando o seu interior para fora. Um lápis caiu para o chão, antigo, com a madeira gasta e a ponta arredondada. Peguei nele e virei-o devagar. Na lateral, o nome "Beatriz" estava escrito a caneta, as letras quase apagadas pelo uso. Senti um aperto no peito, como se tivesse acabado de abrir uma caixa de memórias que eu já nem sabia que guardava.
Junto ao lápis, vinha um cartão simples, sem grandes adereços, apenas uma frase curta escrita com a mesma caligrafia:
"Ainda guardas o meu? Quero que desenhes o futuro comigo. — Beatriz"
Fechei os olhos, e de repente estava outra vez no recreio da escola, com seis anos, de joelhos no chão de terra batida. O meu lápis tinha-se partido ao meio quando tentava desenhar uma casa no caderno de folhas brancas. Comecei a chorar baixinho, com medo de que a professora ralhasse comigo por não ter material.
Foi então que a Beatriz apareceu. Sem dizer nada, ajoelhou-se ao meu lado, tirou da mochila uma caixa metálica linda com vários lápis e estendeu-me um novinho.
— Fica com este. Tenho muitos e tu precisas mais dele.
Foi assim que começou. A partir desse dia ficamos amigas, éramos inseparáveis. Passávamos os intervalos a desenhar mundos inventados, casinhas com chaminés, vestidos cheios de folhos e até uma loja que dizíamos que íamos abrir juntas quando fôssemos adultas. Quando fizemos dez anos, decidimos escrever o nome uma da outra nos nossos lápis preferidos, como se assim nos garantíssemos que nunca nos íamos esquecer.
Mas esquecemo-nos. Ou, pelo menos, deixámos que a vida se metesse pelo meio. A Beatriz mudou-se para outra cidade no final do secundário, e as mensagens começaram a espaçar-se. Ela foi estudar design de moda, eu arquitetura, e cada uma seguiu a sua vida. Sabíamos que estávamos lá, mas a amizade que outrora nos parecia inquebrável transformou-se numa memória bonita, mas mais distante, até este dia.
Entrei em casa devagar, ainda a olhar para o lápis, a recordar tudo o que a ele estava associado. Abri a gaveta da secretária e, por instinto, comecei a remexer nas canetas e nos papéis velhos. Até que o encontrei: o meu lápis, com o nome da Beatriz, guardado como uma relíquia que eu nunca tinha conseguido deitar fora.
Só então me lembrei que havia outro cartão no envelope. Abri-o com os dedos e li.
"Como prometemos em crianças, queres ser a minha madrinha de casamento?"
Senti as lágrimas de felicidade a escorrerem-me pelo rosto antes mesmo de me dar conta de que estava a chorar. Sentei-me à mesa, com os dois lápis lado a lado, e ri-me sozinha, como se a Beatriz estivesse ali, a gozar comigo por ser tão piegas.
Peguei num caderno antigo e, sem pensar, comecei a desenhar um vestido de noiva, cheio de folhos e detalhes, tal como fazíamos em miúdas, como se, de alguma forma, estivéssemos a voltar ao ponto de partida,
Uns dias depois foi deixar a minha resposta nos postos de correio, num postal simples apenas com as seguintes palavras:
"Guardei. Sempre. Que a minha parte da promessa seja cumprida, com todo o gosto".
E, naqueles dias, desenhei até a mão doer, com o lápis já gasto, como se a amizade nunca tivesse saído dali.
Amizades na infância
As amizades de infância têm uma magia que raramente se repete noutras fases da vida. Nascem de forma espontânea, quase sem darmos conta, por um brinquedo partilhado, um lápis emprestado ou uma brincadeira no recreio. Não há desconfiança nem segundas intenções, há apenas a alegria de encontrar alguém que ri das mesmas piadas, que inventa histórias connosco ou que segura a nossa mão quando caímos e esfolamos os joelhos.
Nesses primeiros anos, a amizade é simples e absoluta. Dizemos “vamos ser melhores amigos para sempre” com a certeza ingénua de que o “sempre” é garantido, e fazemos promessas de crescer juntos, de viver lado a lado para o resto da vida. As tardes são passadas a inventar mundos, a sonhar com o futuro ou a desenhar planos que, na altura, parecem inevitáveis. É uma ligação construída com pequenos gestos, dividir o lanche, defender o outro numa discussão infantil, ou ficar até mais tarde só para acabar um jogo.
Mas a infância é uma casa onde não podemos morar para sempre. Crescemos, mudamos de escolas, de cidades, de sonhos. A vida empurra-nos para caminhos diferentes e, muitas vezes, as amizades que pareciam eternas tornam-se memórias guardadas em fotografias antigas ou cadernos esquecidos no fundo de uma gaveta. Vamos adiando mensagens, convencemo-nos de que vamos marcar aquele café que nunca acontece, e deixamos que o tempo se acumule como poeira entre nós.
No entanto, há amizades que resistem, mesmo quando parecem adormecidas. Porque, ao contrário do que pensamos, não é o tempo que define a profundidade de uma ligação, mas sim o que vivemos juntos. Podemos passar anos sem falar, mas basta um reencontro, uma lembrança partilhada, ou até um objeto esquecido, como um lápis com um nome gravado, para que tudo volte ao sítio. É como se aquela versão mais inocente e pura de nós mesmos ainda existisse, pronta para abrir a porta a quem um dia foi a nossa pessoa preferida no mundo.
Talvez seja isso que torna as amizades de infância tão especiais: são raízes que ficam, mesmo quando crescemos para longe delas. São um pedaço de quem fomos, e ter a sorte de reencontrar essas pessoas na vida adulta é como recuperar uma parte de nós que julgávamos perdida. Porque, no fundo, as amizades verdadeiras não se medem pelo tempo que estivemos afastados, mas pela facilidade com que, ao voltarmos a falar, parece que nunca estivemos longe.